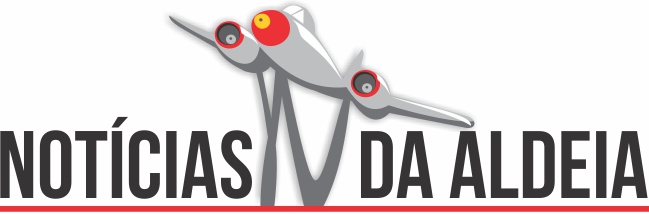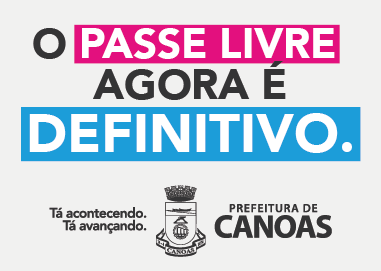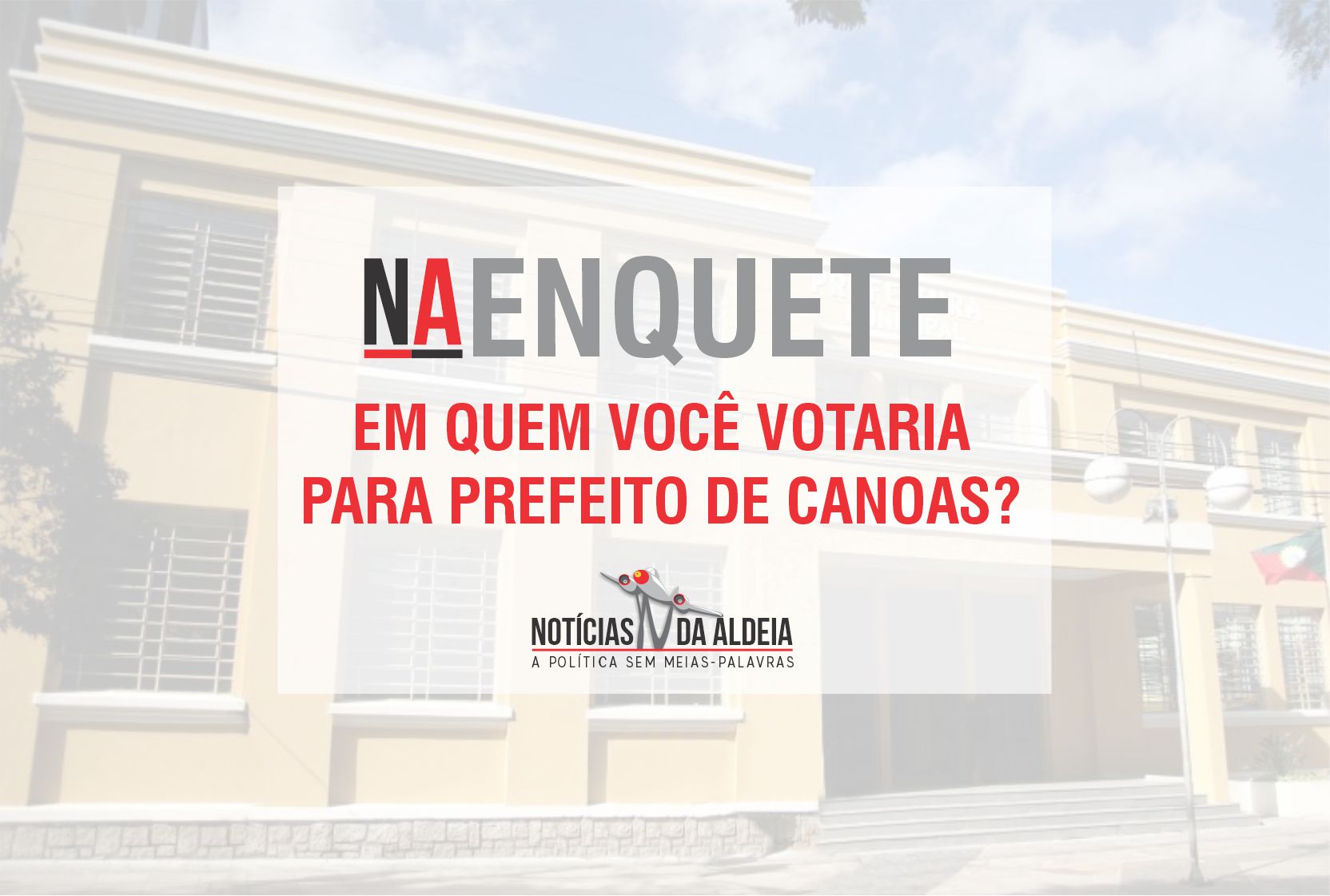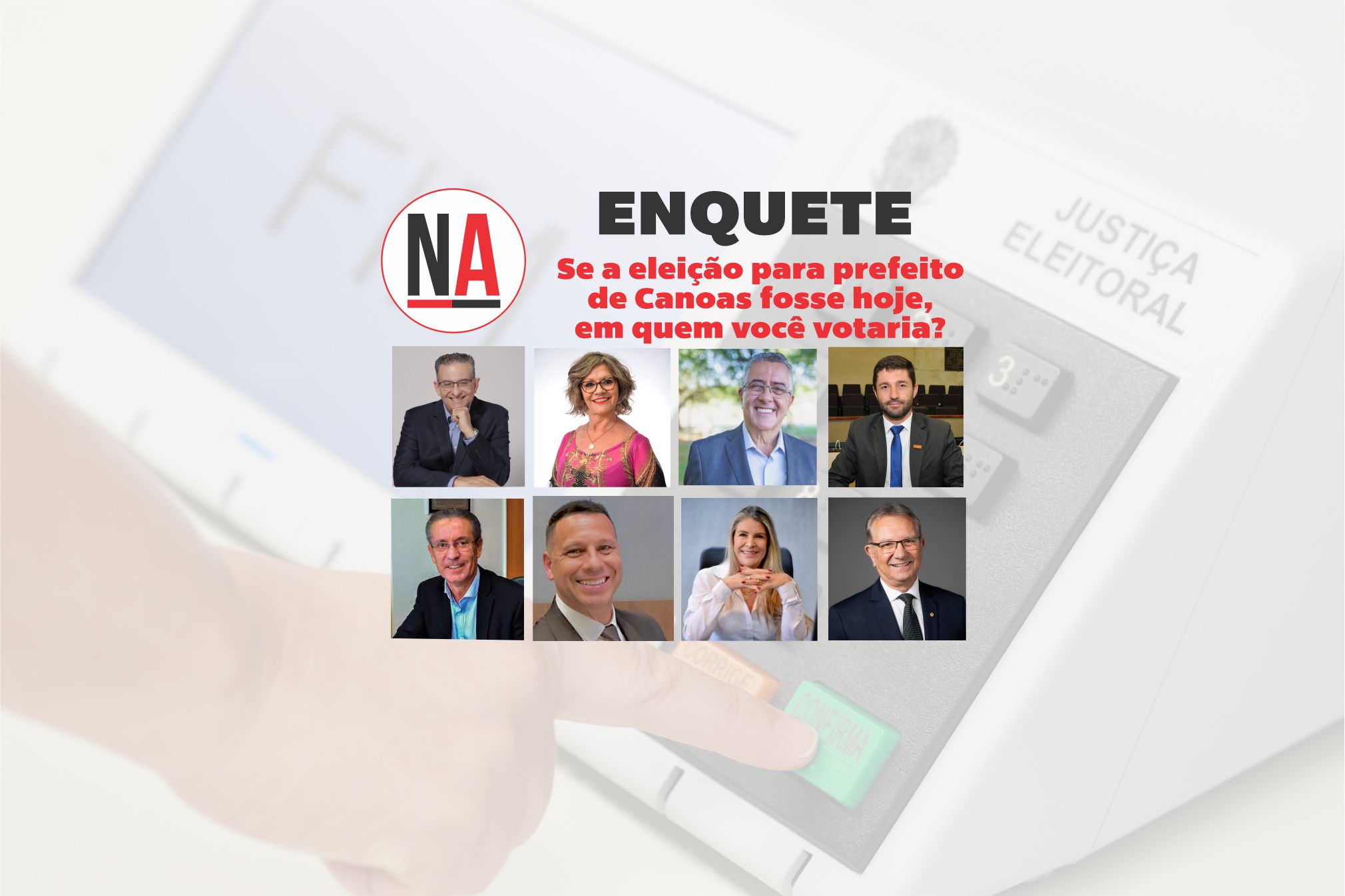*Por Marcelo Ribeiro Lima
Saudosismo da Ditadura: a infância como filtro
Há quem repita, com ar de superioridade moral, que “o tempo da ditadura era melhor”. Trata-se de um saudosismo que pouco tem a ver com política e mais com memória afetiva, evidenciando que esse sentimento não nasce de fatos históricos, mas de uma idealização psicológica.
Muitos dos que defendem essa ideia eram crianças nos anos de 1964 a 1985 e confundem a proteção da infância com uma suposta “ordem” do regime.
Já a geração adulta daquele período, embora plenamente consciente das responsabilidades e tensões da época, conserva uma lembrança seletiva, ignorando — voluntária ou conscientemente — a censura, as perseguições, as torturas e os desaparecimentos que sustentavam aquela falsa sensação de tranquilidade.
Esses dois grupos, em fases distintas da vida, convergem num mesmo equívoco: um saudosismo que distorce o passado. Uns por não terem compreendido o que viviam; outros por preferirem não recordar o que sabiam. Em comum, a fuga da realidade democrática — imperfeita, trabalhosa e conflitiva — em troca da fantasia de um passado autoritário supostamente “organizado”.
Freud: o desejo do “pai forte”
Freud já lembrava que, diante do medo e da incerteza, as pessoas tendem a idealizar figuras de autoridade como se fossem um “pai forte”: alguém que sabe tudo, controla tudo e elimina o caos.
Esse impulso infantil reaparece quando alguém diz que “a ditadura era melhor”. Não é só política — é regressão. É o desejo de voltar ao lugar confortável da infância, onde outro decidia por nós.
Há também um dado histórico importante: a censura. Durante o regime, a população não via o que acontecia nos porões. A violência política — torturas, perseguições, desaparecimentos — era escondida. Para quem cresceu vendo apenas ruas silenciosas e manchetes controladas, é compreensível que tenha restado a impressão de um país “tranquilo”.
O problema é quando esse saudosismo persiste hoje, mesmo com tudo documentado e amplamente divulgado. Comissões da verdade, arquivos, testemunhos e estudos já mostraram a estrutura de violência que sustentava aquela aparência de ordem. Ignorar isso não é falta de informação — é escolha. É a defesa psíquica que Freud descreve: manter a fantasia do “pai protetor” mesmo sabendo de seus abusos, porque a verdade exigiria abandonar uma ilusão confortável.
Em tempos de insegurança, a tentação de buscar soluções fáceis e líderes autoritários reaparece.
É um mecanismo infantil: diante das dificuldades da vida adulta, parte das pessoas prefere entregar a própria liberdade para recuperar a sensação falsa de segurança. Assim, a ditadura é romantizada não por suas características reais, mas porque representa esse desejo inconsciente de entregar a própria liberdade em troca da ilusão de proteção, temendo a complexidade da democracia.
Aqui, o jargão “Freud explica” deixa o terreno do popular e encontra seu verdadeiro sentido.
Hellinger: lealdade cega infantil e o adulto que não nasce
A abordagem sistêmica de Bert Hellinger ilumina outro ponto essencial desse saudosismo: a lealdade cega infantil. Quando falamos de nossa história passada, construímos narrativas que nos deem segurança, mesmo que sejam falsas ou simplificadas. Fazemos isso porque, internamente, muitas vezes não é o adulto que pensa — é a criança que teme perder seu lugar.
Hellinger explica que essa criança interna tenta garantir pertencimento ao repetir, sem crítica e sem consciência, as ideias que ouviu dos pais e avós. Assim, quando alguém repete que “na ditadura era tudo melhor”, muitas vezes não está fazendo uma escolha racional — está apenas obedecendo, de forma infantil, a uma narrativa familiar antiga. A pessoa continua presa a essa lealdade automática porque acredita, inconscientemente, que discordar ameaçaria seu vínculo com a família.
E aqui está o ponto central: o adulto que não nasce. Enquanto essa criança interior estiver no comando do que pensamos, continuaremos ignorantes de nós mesmos — repetindo discursos herdados como forma de permanecer pertencentes, e não porque sejam verdadeiros. Essa lealdade emocional, não a realidade histórica, é o que mantém vivas certas idealizações ultrapassadas.
Jung: a sombra coletiva e o fascínio pelo autoritarismo
Carl Gustav Jung ajuda a esclarecer outro ponto: a projeção da chamada “sombra coletiva”.
Quando uma sociedade não consegue lidar com seus próprios medos, frustrações e impulsos agressivos, tende a jogá-los para fora — atribui tudo a inimigos imaginários e passa a desejar um líder forte que “coloque ordem”. Nesse ambiente emocional, regimes autoritários ganham um brilho perigoso, como se fossem instrumentos de purificação moral.
Jung mostra que o fascínio por discursos de força nasce justamente dessa incapacidade de enfrentar o que incomoda dentro de nós.
Em vez de reconhecer suas próprias contradições, o indivíduo projeta sua sombra em figuras externas e, para contê-la, busca líderes rígidos, punitivos, “salvadores”. O saudosismo da ditadura funciona, então, como uma válvula psíquica: ao invés de lidar com angústias reais, a pessoa se refugia na fantasia de um Estado “duro” que resolveria seus conflitos internos.
É mais fácil acreditar em um líder absoluto que controla tudo do que admitir a própria sombra — mas é justamente dessa ilusão que nascem as paixões autoritárias; e o autoritarismo sabe disso e usa em tom manipulador.
Platão: a caverna e a sedução das sombras
Esse saudosismo político é, no fundo, uma versão atualizada do “Mito da Caverna” de Platão.
Tal como descreve Jung com a “sombra coletiva”, a sociedade projeta para fora aquilo que não quer enxergar em si mesma e, presa a medos e frustrações, passa a desejar líderes fortes que prometem “limpar” o caos. Regimes autoritários, então, ganham aparência de solução moral, quando na verdade apenas encarnam essa fuga de si mesmo.
O saudosista faz exatamente o papel dos prisioneiros da caverna: olhar para o passado como quem olha para as sombras na parede e jura que aquilo é a realidade. A “ditadura boa” é uma dessas sombras — uma imagem simplificada que apagou a violência, o medo e o silêncio que mantinha aquela ilusão de pé.
As sombras são simples de entender; uma luz, não! Idealizar a ditadura é preferir a versão confortável e infantilizada do passado a enfrentar sua violência, suas distorções e suas feridas.
Em termos platônicos: não é que essas pessoas não tenham acesso à saída da caverna; é que muitos simplesmente não querem sair, porque lá dentro — no conforto da ignorância que não quer ver, ou simplesmente mantendo o prazer de permanecer na ilusão — ninguém é obrigado a pensar demais.
Sartre: a má-fé como fuga da verdade
Jean-Paul Sartre chamaria esse comportamento de má-fé (mauvaise foi), ou seja, uma decisão consciente de não encarar a verdade para preservar uma narrativa confortável.
O saudosista da ditadura não rejeita os fatos por mera ignorância, mas porque admite que o que realmente aconteceu destruiria sua fantasia de um passado “seguro”. Sartre descreve isso com precisão: é o ato de enganar a si mesmo para fugir do peso da liberdade.
No campo político, essa má-fé se traduz na escolha de ignorar torturas, censura e mortes para manter viva a ideia de que o regime foi “um tempo bom”.
Em suma, a má-fé sartreana mostra que o saudosismo não é falta de informação, mas falta de coragem, ou seja, é a recusa deliberada de assumir a liberdade com tudo o que ela exige.
Woody Allen: uma nostalgia como refúgio
O filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, retrata com precisão essa armadilha afetiva. A personagem principal, o roteirista Gil Pender, idealiza os anos 1920 como uma época mais autêntica e encantadora que o presente. Quando “viaja” a esse passado e convive com seus ídolos, encontra Adriana que, curiosamente, considera a Belle Époque uma verdadeira idade de ouro. Mais adiante, descobrem que, na própria Belle Époque, muitos sonhavam com a Renascença como o tempo realmente perfeito.
O recado é claro: cada geração fabrica seu próprio “ontem melhor”. A nostalgia não funciona como memória fiel, mas como esconderijo psíquico.
Gil, Adriana e os artistas que admiram repetem o mesmo movimento: idealizam o passado para fugir das frustrações do presente. É exatamente esse mecanismo que alimenta o saudosismo político — ele nasce menos do que o passado foi de fato e muito mais do medo e dos incômodos que o presente provoca.
Conclusão: a liberdade como tarefa adulta
O problema não é apenas histórico: é psicológico e ético. O saudosismo autoritário — e também hipócrita — funciona como uma infantilização coletiva, uma recusa de crescer.
Renato Russo, em Tempo Perdido , traduz bem essa fragilidade: o eu-lírico afirma não ter medo do escuro, mas pede que deixem as luzes acesas. Não é o escuro em si, é o medo do desconhecido, da solidão, do tempo que passa — sentimentos infantis carregados para a vida adulta.
É, no fim das contas, uma fuga de responsabilidade.
Vale lembrar que parte desse saudosismo nasce também de um truque bem conhecido pela psicologia social: a reprodução incessante de narrativas fabricadas. A propaganda do regime — operando de maneira semelhante ao que Goebbels descrevia e ao que a ciência contemporânea chama de “efeito da verdade ilusória” — martelou durante anos a ideia de um inimigo comum, o “comunismo”, e associou a suposta “ordem” do período ao silêncio imposto pelos coturnos.
Soma-se a isso outra coincidência muito repetida: a nostalgia da “boa escola na ditadura”. O que hoje se sabe é que aquele sistema era profundamente excludente. Nos anos 1960, o Brasil ainda tinha alta taxa de analfabetismo infantil, baixa escolaridade média e apenas cerca de 1% dos jovens em idade universitária chegavam ao ensino superior, conforme as séries históricas do MEC/INEP. A lembrança de uma escola “melhor” existe porque poucos estudaram; logo, a experiência de quem estava dentro não refletia a realidade do país. Era uma qualidade percebida por uma minoria, não um padrão disponível para todos.
O resultado é uma memória pública construída menos pelos fatos e mais pela reprodução de versões convenientes.
A democracia exige trabalho, conflito honesto e maturidade para lidar com limites e frustrações. Já a ilusão autoritária oferece o contrário: uma ordem fácil, obediência automática e uma segurança infantilizada que dispensa qualquer esforço real.
No fundo, quem repete “como era boa a ditadura” muitas vezes está dizendo “como era bom não precisar pensar”.
Mas a história não é berçário, e o Estado não é pai.
Buscar abrigo em coturnos, censura e violência mostra incapacidade de lidar com a liberdade, com a democracia — que é sempre tarefa adulta.
E quando uma sociedade abdica da razão em nome da nostalgia, ela não está apenas relembrando o passado, está abrindo a porta para repeti-lo. E — na próxima vez — é certo que será ainda pior, porque cada vez que a história é esquecida a barbárie retorna disfarçada de salvação.
*Marcelo Ribeiro Lima, servidor público federal, com pós-graduação na área do Direito, pai do João Pedro e da Maria Fernanda.